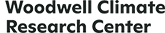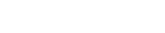On May 18th, Morris Alexie, Permafrost Pathways Tribal Liaison for the Alaska Native Village of Nunapicuaq (Nunapitchuk), traveled for three days to South America to join EarthRights International and other Indigenous leaders from around the world at the Public Hearing on the Advisory Opinion on Climate Emergency and Human Rights.
Read more on Permafrost Pathways
A new study, just published in the journal Nature Communications Earth & Environment, finds that severe droughts in the Amazon basin over the last two decades have led to longer periods of low water levels and triggered profound impacts on the local population.
The severe droughts in 2005, 2010, and 2015-2016, in particular, not only drastically reduced water levels in a substantial part of the world’s largest river system, but also resulted in low water level periods exceeding 100 days, a month longer than expected.
These droughts have major impacts on rural, remote Amazonian communities who heavily rely on inland water transport to access goods and services, reach urban centers, and maintain their livelihoods. The study concludes that during severe droughts, when such water transport is not available, nearly 50% of non-Indigenous localities and 54% of Indigenous villages in the Brazilian part of the Amazon basin are prone to isolation. These droughts also expose Amazonian communities to scarcity of goods, restricted access to healthcare and education, limited access to fishing and hunting sites, and other major impacts.
“This is the new reality of the Amazon,” said Dr. Letícia Santos de Lima, researcher at the Institute of Environmental Science and Technology of the Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) and lead author of the study. “Scientists have been warning for years that the Amazon basin is facing a substantial increase in the frequency and intensity of extreme events due to climate change, on top of severe changes in its hydrological system due to deforestation and forest degradation. These past droughts as well as the most recent one, 2023-2024, are showing that the impacts on the ecosystems extend severely to the Amazon population.”
“The Amazon faces increasingly severe droughts due to global warming, with very real consequences for the communities that live there,” added Dr. Marcia Macedo, Woodwell Climate Research Center scientist and study co-author. “To better prepare for these extreme climate events, we need climate solutions that prioritize water resources alongside efforts to curb carbon emissions. This will be key for sustaining resilient ecosystems and communities in the Amazon and around the world.”
The paper states that “actions to cope with recent droughts in the Amazon have been reactive rather than proactive and grounded in preparedness and adaptation principles,” and calls for Amazon countries to “develop long-term strategies for mitigation, adaptation, and disaster response.” The authors also stress that any solutions to isolation must not also worsen the problem. For example, roads would not be an effective solution as they are a well-known driver of deforestation, which leads to changes in rainfall, contributes to a higher volume of sediments in rivers, and would impair navigability even further.
Using an interdisciplinary approach, researchers combined spatial analysis, methods from hydrology, and news media content analysis to deliver the first spatiotemporal assessment of cross-sectoral impacts of droughts in the Amazon basin.
I am a woman that lives for adventure, mud, and heat. The Caribbean sunshine, warmth, and humidity of my island, Boriké, hug me every single day. That’s why many people find it strange that in the summer of 2022 I ended up on the other side of the world from my Carribean Island home, willingly experiencing freezing temperatures.
So, here’s my story: I grew up in Puerto Rico, a couple of Caribbean islands that are very vulnerable to the effects of climate change. The burning of fossil fuels and the destruction of forests are causing Arctic ice to melt which, in addition to affecting the climate of the planet, is affecting Boriké. Rising sea levels, more frequent and stronger hurricanes, and constant landslides are some of the dangers I am already experiencing on my island.
Although I do a lot of environmental work there, a few years ago I decided to visit the Arctic to fully understand how climate change is also affecting other types of ecosystems. Because climate change is a global phenomenon, I sought to learn how to properly support and collaborate with other at-risk communities outside of the boundaries of my islands, even if that meant stepping outside my comfort zone in another part of the world.
The problem was: I’ve never lived in polar temperatures. I’ve hiked hundreds of miles of coastal and humid tropical forests to conduct research, yet visualizing myself as an Arctic scientist in an environment so different was nearly impossible.
But as I said before, I am a woman that lives for adventure, so if I was going to experience a new environment I was going to get the full experience.
So that summer I packed up my giant backpack and joined eight other young researchers for Woodwell Climate’s Polaris Project— a two-week long research trip in the Yukon Kuskokwim Delta of Alaska. Polaris gives students the chance to design their own studies and gain experience conducting Arctic research. It was with Polaris that my battle against the cold began.
I spent my time in remote areas of the Tundra, a carbon-rich ecosystem lacking mountains and trees, yet full of life and history. I had to live in a tent to conduct my research on how the groundwater system is changing. My usual day in the Arctic looked like lots of hiking in the mud, carrying pipes and drills in my backpack, wearing mosquito nets, and taking water and soil samples in temperatures as low as 48 degrees Fahrenheit. Although 48 degrees might not be cold for many folks on Turtle Island— the original name for North America — as someone from the Caribbean, anything below 70 degrees is already too cold to handle.
Add onto that, the rainy days, the lack of access to communications, internet, electricity, and water service. Needless to say, my first experience with cold was an intense one.
But you know what? I loved it.
I loved working with new friends, colleagues, and mentors. I loved getting to know the Yup’ik and Cup’ik communities guarding these lands. I loved doing science projects that served a common good.
I loved fieldwork in the cold.
However, when I went back home and felt that rich Caribbean sunshine and heat again, I began questioning myself.
How could I have enjoyed working in the cold? Could I really be a scientist in the Arctic even though I didn’t grow up in the Arctic? My Polaris experience lasted only two weeks, and they were the most challenging two weeks of my entire career. Could I endure weeks, months, or even years in these conditions?
Would I let the cold win this battle?
Well, I would have to face the cold one more time either way. Polaris students present the results of their research each year at the American Geophysical Union conference in December. To give my research presentation, I had to travel to Chicago— in the middle of winter.
Have you ever felt the chilling winds of Chicago? It’s known as the windy city for crying out loud! I guess it was time for me to get back to the battlefield.
I packed all my coats, got on a plane, touched down in traditional Potawatomi lands, and tried not to freeze to death.
The wind and snow was strong the day I had to present my research. It was actually my first time experiencing snow falling from the sky, so I bundled up warmly. But as I was walking to the convention center, going over in my mind the speech I had to give, I felt the most chilling cold I had ever experienced in my life. When I looked down at my feet, I realized that I had packed the wrong shoes! In thin flats, my feet were totally exposed.
This was the moment you might conclude that the cold finally beat me. Yet, when I looked back down at my exposed feet, I just couldn’t stop laughing.
After so much effort to “win the battle”, at that very moment I realized the battle doesn’t exist. There is no battle against the cold.
Living in the cold is a lifestyle like any other. Just as my ancestors taught me how to live in harmony with the tropical climate, there are entire communities that apply their millennia-old knowledge to live in harmony with polar temperatures, and in fact depend on it to keep the ground they are built on from thawing and collapsing.
It wasn’t until that moment in Potawatomi lands that I fully realized how much I loved working in Yupi’k and Cupi’k lands. I learned that, whether it’s in the Arctic or in the Caribbean, to become a responsible scientist I need to rethink and rework my perspective and relationship with the land.
Valuing and protecting cold lands, using guidance from the communities that live there, is critical to maintaining a stable climate. For me, embracing the cold gave me a strong step towards stopping climate change.
The MacGyver session at the annual American Geophysical Union (AGU) conference is full to the brim with scientists showing off blinking circuit boards and 3D-printed mechanisms. Research Assistant, Zoë Dietrich, stands in front of her poster and a plexiglass cube sprouting wires. As she speaks, a whizzing sound emanates from the box as it lifts itself up on one side, holding itself open long enough to flush the interior with air from the room. A laptop screen reads out numbers from the sensors in the box, detailing changes in the concentrations of carbon dioxide and methane within.
Dietrich constructed this device herself. It’s a low-cost, autonomous, solar-powered chamber designed to float on water and measure the flow of carbon into and out of the water. Dietrich has spent the past 1.5 years testing and troubleshooting various prototypes, and has already begun deploying models at research sites in Brazil and Alaska. Now she’s sharing her work with the broader scientific community in hopes of encouraging others to build their own versions.
“One of the goals of the chamber project is to make the construction very accessible so that scientists like me, without formal engineering training or background, can build the chambers pretty easily,” says Dietrich.
This was good news for Grand Valley University masters student, Jillian Greene, and her professor Dr. Sean Woznicki, who encountered Dietrich and her chambers at AGU. Though neither of them had experience with mechanical or electrical engineering, they knew immediately a device like Dietrich’s could be invaluable to their research.
Greene’s project involves sampling carbon emissions at drowned river mouth estuaries connected to Lake Michigan. She and Woznicki will then correlate that data with other ecological characteristics gleaned from satellite imagery. There are over one hundred of these freshwater estuary-like features around the region, and Greene and Woznicki are hoping to paint a complete picture of their cumulative role in carbon cycling.
“Originally, I was going to manually sample and quantify with a gas chromatograph,” Greene says. That’s a time-consuming process that limits the amount of data one team can collect. With the chambers, however, Greene can collect emissions data every 30 seconds—greatly expanding the amount of data she’ll be able to incorporate into her models.
“This is going to make our model a lot more robust and hopefully applicable to other drowned river mouth estuaries in the region,” says Greene.
Greene and her research team have already created and deployed 6 chambers. Since AGU, she has been in contact with Dietrich, troubleshooting issues as they arise and learning an entirely new set of skills as she goes.
“[the team] has learned how to solder, how to interpret the circuit diagrams, problem solve, and adjust for our kind of unique systems that we’re looking at,” says Woznicki. “It’s really been exciting to use Zoë’s design as a learning experience for masters and undergrad students.”
Dietrich has had other groups at Colgate University and the University of California, Berkeley reach out to her as well, and she is planning to publish a paper this fall that will include detailed instructions for anyone else to construct their own chambers. She’s already shared preliminary drafts of the step-by-step instructions, including photos, diagrams, and tips, as well as programming and data-processing code and a specific materials list with the other research groups. In turn, they have provided her with helpful revisions and ideas for new modifications. Dietrich is excited about the prospect of the designs being implemented by more people. More chambers means more data, which benefits the entire scientific community.
“Our sampling of carbon right now is limited by expensive instruments and where people can go and who has access to these resources,” says Dietrich. “But the goal of this project is to be low cost and more accessible to a broader set of researchers. The chambers are autonomous, and so are accessible to places and times that aren’t otherwise being sampled right now. And taking that a step further, we need to make them accessible to be built by anyone.”
The Alaska Native Village of Kuigilnguq (Kwigillingok; pronounced kwee-gill-in-gawk), a word that means “no river” in Yugtun, the traditional Yup’ik language, is a federally recognized Tribe in the Yukon-Kuskokwim Delta near the southwest coast of the Bering Sea.
Read more on Permafrost Pathways.
FALMOUTH, MA – WED, JUNE 19th– With deep sadness, Woodwell Climate Research Center announces the passing of Dr. George Masters Woodwell, a pioneer and visionary in the field of climate science, beloved family member, friend, and mentor, and Founder and Director Emeritus of our Center. He passed away on Tuesday, June 18, 2024 surrounded by his family. He was 95.
Woodwell dedicated his career to ecological research, and to uplifting science to inform critical global policy and urgently-needed solutions to some of the biggest environmental issues of the late twentieth century—making enormous contributions to the world through his work of scientific understanding, environmental sustainability, and climate stability.
At a time when the biological sciences were increasingly focused on the molecular and cellular level, Dr. Woodwell was steadfast in his belief that ecosystem-level understanding was critical. He started and led ecological research programs within the University of Maine, Brookhaven National Laboratory, and the Marine Biological Laboratory.
He worked tirelessly to bring science into the public discourse. Based on his research demonstrating the damaging effects of the pesticide DDT, he was a strong scientific voice in the push to ban it. He conducted groundbreaking research on the ecological effects of nuclear radiation. Ultimately, he turned his attention to what was at the time known as “the carbon dioxide problem.” He provided prescience testimony at the first Congressional hearing on climate change in 1986, highlighting issues—the global ramifications of Arctic warming and the importance of forests in the climate system—that have been enduring pillars of climate research since.
Dr. Woodwell also played an outsized role in building today’s ecosystem of science-based advocacy and policymaking, helping found preeminent environmental non-profits including Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council, and World Resources Institute. Additionally, Dr. Woodwell was a former chairman of the board of trustees of the World Wildlife Fund US, and former president of the Ecological Society of America.
He saw the need for international policy and governance to address climate change, guided by global scientific expertise, and played important roles in the creation of what became the Intergovernmental Panel on Climate Change, which was recognized in 2007 with a Nobel Peace Prize, and the United Nations Framework Convention on Climate Change—the treaty that has driven and guided international climate negotiations for more than thirty years.
In 1985, he founded the Woods Hole Research Center—renamed Woodwell Climate Research Center in his honor in 2020—as an independent organization dedicated to not only conducting essential climate research, but to harnessing it to inform public- and private-sector decision making at all levels of society. Dr. Woodwell led the Center for more than twenty years, was a mentor and friend to many of the Center’s staff, and remained a trusted advisor to Center leadership to the end.
“Our entire staff and community is deeply saddened by George’s passing, and our thoughts are with George’s many friends and his family today,” said Max Holmes, President of the Woodwell Climate Research Center. “What drew people to George was not just his intellect or foresight, but also his energy, wisdom, and sense of humor. His ability to sustain outrage and indignation at environmental destruction, while holding an abiding love of the natural world and a clear, positive vision of a better world for all was an inspiration for many.”
That vision was the subject of Dr. Woodwell’s final book, A World to Live In: An Ecologist’s Vision for a Plundered Planet, published in 2016. Over the course of his career, Dr. Woodwell has published more than 300 scientific papers and authored five books. He was a member of the National Academy of Sciences and a Fellow of the American Academy of Arts and Sciences. He received the 1996 Heinz Environmental Prize, the John H. Chafee Excellence in Environmental Affairs Award of 2000, and the Volvo Environment Prize of 2001.
Born on October 23, 1928 to Virginia Sellers Woodwell and Phillip McIntire Woodwell, Dr. Woodwell received his bachelor’s degree from Dartmouth College, his master’s degree and doctorate in botany from Duke University, and served as a commissioned officer in the U.S. Navy from 1950 to 1953. He was an avid sailor, and loved his family’s farm and sawmill in Maine.
He is survived by his wife, Katharine Rondthaler Woodwell, his children and their spouses Caroline Woodwell (Chris DeForest), Marjorie Woodwell (Dana Woodbury Swan), Jane Woodwell (Chris Soper), John Woodwell (Marie Hull), and his grandchildren Katharine Soper, David Soper, John DeForest, and Robert DeForest.
The family welcomes gifts in Woodwell’s memory made to the George M. Woodwell Endowed Fund at Woodwell Climate Research Center. A remembrance service will be held at the Center in Falmouth, MA in coming weeks; more details to follow at woodwellclimate.org/george-woodwell.
The rapid warming of the Arctic has caused substantial sea-ice melt, increased ice-free area, and enhanced evaporation from Arctic Marginal Seas (AMS). According to a recent study, the resulting increased atmospheric moisture and latent energy have profound implications for precipitation patterns over Northern Hemisphere land areas.
During the cold season (October to March) from 1980 to 2021, the sea-ice area in AMS declined by nearly 30% (approximately 2 million square kilometers), accounting for 32% of the increase in AMS-sourced precipitation on lands in the Northern Hemisphere land. This means that for every one million square kilometers of ice loss there was a 16% increase in the contribution of water evaporated from AMS to precipitation over land.
“The study reveals that the enhanced moisture supply has a surprisingly pronounced impact on high-latitude land precipitation,” stated the corresponding author, Dr. Qiuhong Tang. Despite AMS-sourced moisture accounting for only 8% of the total high-latitude land precipitation, its dramatic increase owing to ice loss contributed 42% to the overall precipitation increase. “This additional moisture has also contributed to increased extreme snowfall in high-latitude land areas,” added the lead author and Ph.D. candidate Yubo Liu, “which could help mitigate the impact of climate warming on melting of the Greenland ice sheet.”
“Our findings highlight the important contribution of Arctic sea-ice retreat to Northern Hemisphere land precipitation through moisture cycling, which underscores the many impacts of rapid Arctic change on the global climate system,” added co-author Dr. Jennifer A. Francis. “These insights help inform decision-makers striving to manage impacts of the climate crisis.”
O céu se abre no momento em que nosso caminhão deixa o último trecho de estrada pavimentada. A Diretora do Programa de Água, Dra. Marcia Macedo, aperta os olhos para manter o foco no que consegue ver entre uma limpeza e outra do para-brisa. Em poucos minutos, nosso caminho se transformou de uma estrada de terra em um leito de rio de lama laranja brilhante, sulcado pela passagem de caminhões pesados que transportam soja das fazendas vizinhas.
Macedo desvia para evitar solavancos e depressões, mas logo há mais deles do que estrada plana. Nós nos preparamos para as poças, olhando pelas janelas salpicadas de spray laranja.
É uma manhã de segunda-feira, na estação chuvosa, nos arredores da Amazônia, e estamos indo para o trabalho.
A Estação de Campo de Tanguro fica a cerca de uma hora de carro de Canarana, a cidade mais próxima, localizada em uma região do Brasil às vezes chamada de arco do desmatamento. Há várias décadas, a agricultura começou a surgir na região sul da floresta amazônica, criando áreas retangulares de terras agrícolas na floresta primária. Na maior parte do trajeto, somos ladeados apenas por megacampos de soja ou pastos de gado.
Macedo, que realiza pesquisas na Tanguro desde 2007, lembra-se de uma época em que a viagem poderia ter sido marcada pela travessia do limiar das savanas florestais do Cerrado – Brasil – para a Amazônia. Agora, o desmatamento próximo à estrada obscureceu essa transição natural. Eventualmente, no entanto, tufos verdes exuberantes emergem da chuva e percebemos que estamos quase lá.
Desde a sua fundação em 2004, a Tanguro tem oferecido a pesquisadores de todo o mundo a oportunidade de investigar grandes questões sobre como as mudanças climáticas e o desmatamento estão afetando a Amazônia. Macedo e sua equipe vieram para estudar os córregos e reservatórios da Tanguro.
Paramos do lado de fora da estação de pesquisa, tirando as malas, embrulhadas em sacos plásticos de lixo, da caçamba da caminhonete. A assistente de pesquisa, Zoe Dietrich, segura vários componentes eletrônicos vitais no peito, levando-os para uma varanda coberta para protegê-los da chuva. A pós-doutoranda Dra. Aibra Atwood começa a retirar tubos de núcleo de sedimentos de uma pilha de equipamentos. As nuvens se dissipam e o dia de trabalho na Tanguro começa.
A Fundação
A decisão de se estabelecer na fazenda Tanguro causou polêmica na época.“Quase nos separou”, lembra o fundador da Tanguro, Dr. Daniel Nepstad. “Tivemos uma discussão que durou dois dias.”
Quatorze anos antes, Nepstad havia estabelecido o programa amazônico no Woodwell Climate (então Woods Hole Research Center) no estado do Pará, estudando a resiliência das florestas amazônicas durante as longas estações secas. Esse trabalho deu origem a um novo instituto de pesquisa com sede no Brasil – em 1995, Nepstad cofundou o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) em Belém para buscar ciência relevante para políticas que pudessem informar o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A Woodwell Climate e o IPAM começaram a realizar experimentos de simulação de secas e descobriram que a floresta tropical, que há muito tempo era considerada imune ao fogo, perdia essa resistência durante secas severas. Para investigar as implicações disso, Nepstad percebeu que eles precisavam de um novo experimento em algum lugar na borda da Amazônia, onde é mais seco o ano todo.
Nepstad vinha passando cada vez mais tempo no estado do Mato Grosso, interessado pela expansão do cultivo de soja na Amazônia. Durante sua busca por um novo local de estudo, o Grupo Amaggi fez um convite extraordinário.
O Grupo Amaggi era, na época, o maior produtor de soja do mundo, e a soja estava rapidamente se tornando o inimigo ambiental número um, à medida que centenas de milhares de acres de florestas eram derrubados para expandir seu cultivo.
“Mas o Grupo Amaggi, uma empresa brasileira, queria se antecipar à questão”, diz Nepstad. A perspectiva de perder um mercado importante na Europa levantou questões sobre o melhor caminho a seguir. Em 2002, eles criaram o primeiro sistema para rastrear as práticas florestais dos agricultores que lhes vendiam soja. Em 2004, eles fizeram um convite a Nepstad para pesquisar as florestas em sua recém-adquirida propriedade Tanguro, um conjunto de fazendas de gado desmatadas que estavam em processo de conversão para campos de soja.
A esperança era que a pesquisa demonstrasse ao mundo o que realmente estava acontecendo nessas enormes fazendas de soja na Amazônia, fornecendo dados que poderiam contribuir para conversas sobre soja sustentável.
“Há vinte anos, havia muitas discussões sobre preservação ambiental e agricultura”, diz a Diretora de ESG, Comunicações e Conformidade do Grupo Amaggi, Juliana de Lavor Lopes. “Esses dois podem criar uma simbiose? Acho que sabíamos que [eles] poderiam trabalhar juntos, mas será que poderíamos provar isso?”
Para Nepstad, o convite também foi a oportunidade perfeita para realizar um experimento de fogo controlado em um local ideal. Após muitos debates, o IPAM decidiu aceitar.
“Muitas pessoas temiam que isso arruinasse nossa reputação, minasse nossa credibilidade junto às organizações de base – muitas ONGs achavam que estávamos nos vendendo”, diz Nepstad. “Algumas pessoas nos acusaram de termos sido comprados pelo Grupo Amaggi.”
Mas Nepstad foi muito claro quanto aos termos da parceria. Eles não aceitariam nenhum dinheiro da empresa além do que o Grupo Amaggi investiu nos prédios do campus da estação de pesquisa. E eles só apoiariam as atividades da fazenda na medida em que a ciência permitisse. A pesquisa relataria com precisão os impactos da agricultura sobre a floresta, sem restrições de publicação
Assim, em 2004, com poucos recursos financeiros, mas acompanhados por uma equipe dedicada de técnicos de campo e pesquisadores dos experimentos de seca no Pará, – alguns dos quais ainda trabalham na estação de campo atualmente – Woodwell e IPAM montaram um acampamento na Tanguro.
A vida na estação
As botas sujas de lama começam a fazer fila do lado de fora da porta do refeitório às 11h50. Donna Lucia serve o almoço pontualmente ao meio-dia.
Maria Lúcia Pinheiro Nascimento administra a cozinha da Tanguro há mais de 16 anos, preparando refeições fartas para cientistas e técnicos de campo famintos três vezes ao dia. O almoço e o jantar geralmente envolvem alguma carne grelhada ou cozida lentamente, arroz, feijão e uma salada fresca ou legumes assados. Hoje tem abóbora, abobrinha e sobras de linguiça e peito do churrasco de ontem à noite. O café da manhã é mais leve – pão de queijo, ovos, pão fresco, frutas e café – preparado e devorado antes do início do trabalho às 7h.
Muitos dos técnicos que vivem e trabalham aqui cinco dias por semana dizem que a Tanguro é como uma segunda casa, e seus colegas, uma segunda família. Para Dona Lúcia, como é chamada pelos funcionários e visitantes, cozinhar para a estação de pesquisa não é como cozinhar para a família. É realmente cozinhar para a família. Seu marido, Sebastião Nascimento, o “Seu Bate”, foi um dos primeiros técnicos de campo a trabalhar no experimento de seca no Pará. Ele voou para se juntar à equipe da Tanguro um ano após a fundação da empresa e trouxe sua família um ano depois, incluindo seu filho, Ebis Pinheiro de Nascimento, que também entrou como técnico de campo. Um terceiro técnico do Pará, Raimundo Mota Quintino, conhecido como “Santarém”, juntou-se à família quando se casou com a filha de Dona Lúcia.
“Estou com minha família”, diz ela. “Isso me traz alegria.”
Com ou sem parentesco, a equipe da Tanguro trabalha em conjunto, como uma família. A cooperação e o respeito são essenciais em um lugar tão remoto e desconectado (o wifi só se estende a cerca de 18 metros do prédio da cantina) como a Tanguro.
“Brincamos que é como se fosse o ‘Big Brother’”, diz o gerente de campo Darlisson Nunes da Costa. “Mas estamos realmente unidos e nos respeitamos mutuamente. É um ambiente maravilhoso para se trabalhar”.
Também pode ser um ambiente fisicamente desafiador, com longos dias de calor e umidade, preocupações com a segurança em uma floresta cheia de cobras e onças, porcos selvagens territoriais e terrenos que podem facilmente causar uma torção no tornozelo. Ao mesmo tempo, garantindo que os cientistas obtenham os dados de que precisam.
Todo técnico de campo precisa ser adaptável e versátil, pois, além dos horários das refeições, não há rotina diária. Sua manhã pode envolver o corte de videiras para encontrar um caminho para um riacho escondido, selecionado a partir de imagens de satélite como um local de amostragem. A tarde pode ser dedicada à solução de problemas em uma das torres de monitoramento de carbono.
“Não podemos dizer que temos um trabalho monótono”, diz Seu Bate. “Fazemos de tudo um pouco.”
Mesmo assim, cada um dos técnicos desenvolveu suas especialidades ao longo das décadas. Santarém ainda usa as habilidades de aquaviário de seu trabalho anterior como guia de pesca na cidade portuária do Pará que lhe deu o apelido. Ele leva a canoa para os reservatórios com frequência, ajudando os pesquisadores a extraírem núcleos de sedimentos. Seu Bate pode construir o que você precisar – seja a base de alumínio para uma câmara flutuante de monitoramento de metano ou um colar personalizado para segurar tubos de núcleo de solo pesados enquanto você coleta amostras, basta dar a ele 20 minutos e algumas ferramentas elétricas. Nunes da Costa mantém as atividades de campo da equipe organizadas a cada semana e consegue, sem esforço, abrir um caminho claro na floresta. O Ebis gosta de coletar dados, especialmente quando isso envolve a coleta de amostras de água ou de peixes nos cursos d’água de Tanguro. Para o coordenador de projetos científicos da estação, Dr. Leonardo Maracahipes-Santos, escalar a torre de carbono de 35 metros é como caminhar.
As pessoas que visitam a Tanguro variam. Às vezes, as semanas passam com apenas os técnicos de campo na residência e, às vezes, as pequenas casas em estilo de cabine e a alegre cantina da estação estão repletas de hóspedes.
Esta primavera já foi bastante movimentada. Maracahipes-Santos cuida das atividades diárias e organiza a equipe rotativa de visitantes. Em poucas semanas, ele passou de acompanhar
uma equipe de jornalistas brasileiros pelos locais de estudo, a trabalhar com colaboradores do Instituto Max Planck na manutenção de rotina das torres de carbono e a coordenar conversas entre pesquisadores visitantes e representantes do Grupo Amaggi sobre a remoção de várias barragens na propriedade.
E mesmo durante as semanas mais calmas, ainda há muita ciência a ser feita – coleta de amostras para estudos em andamento, execução de análises de dados, verificação de equipamentos. É difícil conseguir um dia de folga na Tanguro, mas pelo menos nunca é entediante.
“É muito interessante, porque fazemos parte de um projeto grandioso, que é montar experimentos em campo junto com os cientistas”, diz Nunes da Costa. “Nós nos sentimos um pouco como cientistas porque todo esse negócio começa no chão. Podemos começar com um pedaço de madeira colocado no chão e chegar até um artigo científico. Tenho muito orgulho. Não apenas de mim, mas de toda a equipe.”
Por sua vez, Dona Lucia se orgulha de alimentar a ciência na Tanguro.
“Tenho muito orgulho de estar em uma empresa como esta, hoje”, diz Dona Lúcia. “Hoje em dia, para trabalhar em uma empresa como essa, é preciso ter um diploma, e eu não tenho. Não tenho diploma de gastronomia. Não tenho nenhum diploma. Mas aprendo todos os dias”.
Um laboratório natural
O trabalho de campo termina às 16h, deixando Macedo, Atwood, Nunez da Costa e eu suados e exaustos após passar uma tarde vagando por áreas úmidas acidentadas em busca de leitos de riachos. A Atwood estava colocando medidores de temperatura a cada 500 metros acima e abaixo dos reservatórios. Ela está interessada nos impactos que esses pequenos corpos d’água têm sobre a bacia hidrográfica e até onde esses impactos se estendem. No entanto, os riachos amazônicos muitas vezes passam por segmentos intransponíveis de pântano, de modo que encontrar os locais de amostragem exige uma caminhada vigorosa e um bom facão.
Após a caminhada, encontramos o grupo de jornalistas visitantes no reservatório de Darro. Um dos maiores reservatórios de Tanguro, o Darro fornece água para a estação de pesquisa para chuveiros e limpeza. Em dias especialmente quentes, também é um ótimo local para nadar.
A água é quente – mais quente do que os riachos próximos, os dados de temperatura de Atwood confirmaram – mas ainda assim mais fria do que o ar abafado. Também é transparente. Nossos pés podem ser vistos pisando na faixa de água mais fria lá embaixo. Reflexos brancos e ondulantes se formam na superfície, um espelho perfeito das nuvens acima.
Na Amazônia, a água é tudo. É isso que torna possível a existência de florestas exuberantes. É o que liga uma fazenda de soja no Mato Grosso a estuários na foz do rio Amazonas. E é isso que conecta essa região ao clima global. As nuvens que se aglomeram acima de Darro ficam mais pesadas e mais escuras com a chuva enquanto nadamos. Embora parte dessa chuva caia de volta à Terra aqui, outra parte é empurrada para fora dos trópicos para cair em outros lugares.
“A água faz duas coisas”, diz o diretor do programa Woodwell Tropics, Dr. Mike Coe. “Primeiro: a chuva está caindo em outro lugar. Segundo: água é energia. É preciso uma enorme quantidade de energia para evaporar a água e essa energia é liberada em outro lugar quando chove. Assim, a energia do sol que cai aqui é transportada para todo o mundo. Isso é muito importante. Isso define o clima”.
Isso significa que, por meio da água, as mudanças aqui têm o potencial de causar grandes mudanças em todo o mundo. A localização da Tanguro em uma região da Amazônia que sofreu intenso desmatamento para a agricultura há apenas algumas décadas torna-a um local ideal para estudar essa causa e efeito.
“Quando você remove as florestas da paisagem, você muda algumas coisas fundamentalmente que não podem ser desfeitas”, diz Macedo. “Você altera a quantidade de água nos córregos, altera a profundidade de enraizamento das plantas na paisagem, altera todo o ciclo hidrológico.”
A Tanguro é bastante representativa das mudanças ocorridas em toda a região. É um mosaico de florestas naturais, campos de soja e algodão e alguns bosques de eucaliptos plantados. Algumas de suas bacias hidrográficas estão completamente dentro dos limites da floresta, outras passam completamente por terras agrícolas. Alguns riachos têm florestas bem preservadas ao longo de suas margens, enquanto outros estão em processo de restauração. As espécies amazônicas se misturam com as da savana brasileira. Está se tornando mais quente e mais seco à medida que o clima muda. Para os cientistas climáticos e ecologistas da Woodwell e do IPAM, esse é o laboratório natural perfeito.
Como o primeiro projeto de pesquisa lançado naquele laboratório, o experimento com fogo ganhou muita atenção.
“O Grupo Amaggi mobilizou a sociedade, havia jornalistas, repórteres de jornais e bombeiros. Pessoas da empresa e pessoas das cidades locais”, lembra Nepstad. Era um território novo, queimando intencionalmente a floresta para saber como isso mudava a paisagem. “Foi muito emocionante.”
A cada novo ano de queima, as percepções se revelavam. Em um ano particularmente quente e seco, a floresta queimou ainda mais do que o previsto. Nepstad se lembra de ter visto as chamas, na altura das canelas, ainda queimando às 2h da manhã seguinte. A mortalidade das árvores depois disso saltou de 6% para 50%.
“Isso foi trágico para aquele trecho de floresta”, diz Macedo. “Mas produziu percepções realmente importantes. Quase presciente. Basta olhar para 2023: foi um ano incrivelmente seco na Amazônia e, de repente, vimos florestas no meio da floresta tropical – áreas que costumavam ser muito úmidas para queimar agora podem queimar durante uma grande seca.”
Com o experimento de fogo em andamento, ainda havia quase 200.000 acres de terra disponíveis para estudo, então Nepstad convidou pesquisadores como Macedo, Coe e o Dr. Paulo Brando, que trabalhou com Nepstad no Pará, para explorar que outras histórias a Tanguro poderia contar sobre a Amazônia. Em seus 20 anos de história, mais de 180 artigos foram publicados a partir de pesquisas na estação, variando em tópicos desde mudanças hidrológicas até os limites climáticos da agricultura produtiva, a degradação do carbono florestal e o valor dos excrementos de anta para restauração. Brando atribui os resultados prolíficos da estação ao conhecimento de sua equipe.
“Parte da magia da Tanguro é aprender com as pessoas que trabalham há 20 anos na floresta. Eles têm um senso intuitivo do que está acontecendo com a saúde dessas florestas”, diz Brando.
Outro aspecto exclusivo da localização da Tanguro é sua posição em relação ao ecossistema maior. As centenas de pequenos riachos que cruzam a Tanguro formam as cabeceiras do rio Xingu, um importante afluente do tronco principal do Amazonas. Tanguro fica a apenas 60 quilômetros da Terra Indígena Xingu, por onde corre o rio de mesmo nome. Quaisquer distúrbios a montante de nutrientes, sedimentos ou fluxo de saída do córrego têm o potencial de se propagar até a reserva, afetando os meios de subsistência das comunidades indígenas.
“Os cursos d’água que estamos explorando na Tanguro fluem para a Reserva do Xingu. Portanto, é importante entender essas questões científicas de como a qualidade da água está sendo afetada pela agricultura como uma questão transfronteiriça”, diz Macedo. “A água conecta tudo.”
Conexão com a comunidade
Quando a Coordenadora Geral da Tanguro, Dra. Ludmila Rattis, iniciou sua pesquisa de pós-doutorado na estação de campo, Canarana era uma cidade diferente – pequena e dominada por homens o suficiente para que uma cientista ambiental não tivesse esperança de permanecer anônima. Rattis via seu nome escrito na comnda do bar como “menina do IPAM”. Ao andar na rua, sentia os olhares e às vezes era abordada por pessoas perguntando se ela trabalhava com os indígenas.
Era um lugar difícil de se estar, lembra ela. “Eu me sentia observada o tempo todo. Eu não podia fazer nada sem trazer comigo o nome de uma instituição. E a conexão com a Internet era de menos de um megabyte, não dava para assistir filmes em streaming”, diz Rattis. “Abrir um e-mail era um desafio.”
Trabalhar para uma organização ambiental sem fins lucrativos em uma cidade agrícola que deve sua própria existência ao desmatamento é, às vezes, difícil de navegar. Mas a agricultura está entrelaçada no DNA da Estação de Campo de Tanguro. Os cientistas do clima podem se arrepiar ao ver escavadeiras pressionando a vegetação rasteira, mas em última análise, a proximidade com a agricultura aqui levou a algumas das percepções mais valiosas da estação.
“Por estarmos neste lugar há muito tempo, podemos observar as mudanças à medida que elas ocorrem e dizer algo com muito mais confiança sobre os impactos mais amplos na Amazônia”, diz Macedo.
A parceria com o Grupo Amaggi também ajudou a conectar a ciência a grandes decisões no setor de soja. Em 2012, quando os debates sobre o futuro do Código Florestal brasileiro estavam em pleno andamento, Nepstad foi convidado a participar de uma viagem de campo a Tanguro com os principais legisladores que estavam elaborando o novo código, incluindo o senador Blairo Maggi, proprietário do Grupo Amaggi. Ver em primeira mão os experimentos de restauração florestal na estação ajudou a demonstrar a viabilidade da implementação das novas proteções. O Código Florestal foi revisado e a maioria de suas restrições ao desmatamento ainda está em vigor.
“Foi realmente a ciência que abriu essas portas”, diz Nepstad.
A pesquisa de Rattis, em particular, contribuiu para fortalecer as parcerias com fazendas da região. Ela passou o ano em Canarana conversando com os agricultores sobre a experiência deles com as mudanças climáticas – estações chuvosas que começam mais tarde, queda na produtividade das colheitas – e perguntando quais informações os modelos climáticos poderiam ser úteis. Aos poucos, à medida que Rattis apresentava a eles seus resultados, mostrando-lhes as previsões de chuva e temperatura e mantendo um diálogo aberto, ela construiu um relacionamento que não só fortaleceu sua relação com a comunidade, mas ajudou a orientar pesquisas futuras.
“Os fazendeiros lhe dirão se algo parece certo ou não, e 90% das vezes eles dirão ‘uau, você pode me enviar esse gráfico? Quero mostrar aos meus vizinhos’”, diz Rattis. Um novo estudo começou depois que conversas com um gerente de fazenda sugeriram uma conexão entre as florestas e a produção agrícola. “Eu disse que estávamos nos perguntando se as plantações produziriam mais perto da floresta, e ele disse: ‘isso faz sentido porque as plantas de algodão são maiores perto da borda da mata’.”
Os pesquisadores da Tanguro também estabeleceram conexões com os moradores da reserva indígena do Xingu, nas proximidades, formando parcerias com as aldeias para estudar os impactos a jusante dos incêndios recorrentes. Um professor da Universidade Federal da Amazônia (UFRA), Dr. Divino Silvério, que realizou sua pesquisa de doutorado no Tanguro, liderou grande parte desse trabalho.
“A ideia principal era integrar o conhecimento científico que tínhamos na Tanguro com o conhecimento tradicional dos povos indígenas, para quantificar melhor os impactos do fogo sobre as espécies que são usadas por eles para alimentação, construção e medicina”, diz Silvério.
Durante o estudo, Silvério e sua equipe de pesquisa visitaram a reserva do Xingu para discutir a pesquisa e compartilhar percepções. Eles também forneceram bolsas de estudo a vários estudantes indígenas para ajudar na coleta de dados e visitar a Tanguro para uma troca de conhecimentos.
“Os povos indígenas vêm manejando bem as florestas há séculos”, diz Silvério. “Mas agora temos a mudança climática. Está se tornando realmente urgente ter esse tipo de conversa no sentido de encontrar algumas soluções para mitigar os impactos das mudanças climáticas sobre os meios de subsistência dessas pessoas.”
Rattis também acredita que a Tanguro tem um papel a desempenhar como um centro educacional. No último ano, ela tem trabalhado para criar um prêmio de redação para estudantes locais, homenageando um funcionário do IPAM que defendeu a educação ambiental nos anos 2000.
“A Tanguro que temos hoje é o legado de muitas pessoas que trabalharam lá”, diz Rattis.
Como será o futuro?
Maracahipes-Santos já escalou essa torre milhares de vezes. Hoje ele sobe mais uma vez para prender uma corda sobressalente em um de seus suportes superiores. Se um de nós desmaiar
no meio da escalada, pelo menos eles poderão nos descer com cuidado. Se tudo der certo, escalaremos os 35 metros para cima e para trás com nossa própria força, ancorados no centro da torre com um mecanismo que trava como um cinto de segurança sob força repentina para baixo.
A torre em si é essencialmente uma escada coberta de vegetação, com vários medidores de gás e de temperatura presos a postes finos no topo. Três deles estão localizados ao redor da Tanguro para monitorar o movimento de dióxido de carbono, vapor de água e outros gases que entram e saem da paisagem. Essa torre em particular fica a 15 minutos de caminhada em uma seção de floresta intacta que foi usada como local de controle durante o experimento de incêndio.
Depois de verificar e verificar novamente minhas cordas, um grito de Maracahipes-Santos, que já estava no topo, sinalizou que era hora de começar a escalada.
Uma mão sobe um degrau, depois a outra. Os pés acompanham. Passo, passo, respire. Você deve se inclinar para trás, deixar que o arnês o segure e empurrar seu peso para cima com as pernas, mas um instinto inabalável me faz puxar com força a escada, de modo que, quando chego ao topo, meus antebraços estão tremendo. Suada, ofegante, corada, mas finalmente sobre o galpão. Maracahipes-Santos sorri e prende meu gancho de segurança em um dos suportes. Aqui em cima, somos mais altos do que as árvores.
Do alto da torre, você pode ler a história e o futuro desse lugar apenas virando a cabeça. A floresta se estende até o horizonte em uma direção, um mosaico ininterrupto de verde profundo. Em outro, é possível ver retângulos enormes de terra vermelha e tapetes uniformes de soja verde-clara cortados na paisagem. Em algum lugar escondido atrás de um bosque de eucaliptos plantados estão os telhados de metal corrugado da estação de pesquisa. A chuva está caindo no horizonte.
Há poucas décadas, tudo isso era floresta. Apenas outro aglomerado impossivelmente espesso de organismos vivos que respiram, morrem e crescem novamente em um dos ecossistemas de maior biodiversidade do planeta. Agora, os instrumentos de sensoriamento remoto documentam seu declínio.
A pesquisa na Tanguro é orientada por uma grande questão: “Qual é o futuro da Amazônia?” Mas a resposta a essa pergunta dependerá: dos cientistas que continuarem a vir a Tanguro para entender como esse ecossistema está mudando; dos técnicos de campo que tornarem possível conduzir a ciência na floresta com segurança; dos fazendeiros que se orgulharem de cuidar das florestas que estão em suas terras; dos funcionários do governo que criarem políticas que reflitam a ciência; e das decisões de pessoas a milhares de quilômetros de distância para reverter a mudança climática.
“Quando se faz uma pesquisa sobre essa floresta, percebe-se que é um sistema incrivelmente resistente, que agora está enfrentando estresses e distúrbios cada vez mais fortes. Portanto, ele precisa de ajuda e precisa ter uma chance, mas continuará”, diz Nepstad. “E acho que a Tanguro tem um papel importante nisso.”
Os últimos 20 anos na Tanguro contribuíram para direcionar a Amazônia para um futuro mais promissor. O que os próximos 20 anos nos trarão?
“Minha esperança”, diz Rattis, “é que em 20 anos não estaremos mais lidando com o desmatamento. ‘Lembra-se daquela vez em que tivemos que convencer as pessoas a não derrubar a floresta? Estou muito feliz por termos superado isso’”.